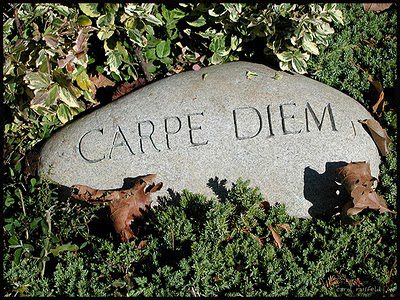Se você acha que a burocracia do Detran é a coisa mais aterrorizante de São Paulo, é porque ainda não viu o que cresce nas rachaduras do asfalto de Guaianases quando o Sol decide se esconder atrás da poluição trazendo mais uma noite.
A história começa no CFC (Centro de Formação de Condutores) Liberdade e Ordem, um lugar que exalava aquele cheiro clássico de café requentado e desespero burocrático. Lá estavam eles, as vítimas da legislação de trânsito brasileira: Ana Viana e Ricardo Borges. Ana, com seus 1,60 m de pura teimosia e um cabelo encaracolado que parecia ter vida própria, desenhava diagramas de estruturas modulares no verso de um folheto sobre direção defensiva já que não podia usar sua mochila de desenho durante a aula. Ela era estudante de arquitetura e corinthiana, deixando isso claro ao usar um patch do time do futebol na jaqueta – o que explica muito de sua resiliência natural a tragédias e superação.
Ao lado dela, Ricardo Borges parecia grande demais para a cadeira de plástico. Um baiano de 1,80 m que trocou o cálculo integral da Engenharia pelas entregas de aplicativo porque, bem, boletos não entendem a beleza da Física, mas entendem a urgência da fome. Ele tamborilava um ritmo de rock axé baiano no joelho, enquanto seus dedos, calejados pelas cordas do violão e pelas chaves de fenda, ajustavam um componente eletrônico ilegal que ele mantinha escondido na luva de motoboy.
O narrador, vulgo eu, que já viu essa cidade ser engolida por asfalto e agora a vê ser mastigada por algo muito mais verde e sombrio, garante: eles não deveriam ter saído para aquele intervalo.
— Esse sistema do simulador é uma piada — murmurou Ricardo, a voz grave cortando o silêncio no posto de combustível elétrico na frente do CFC. — Se eu usasse esse código na minha moto, eu não chegava nem na esquina.
Ana levantou os olhos dos seus esboços na sua mochila de desenho: — É arquitetura de obsolescência programada. Feito para quebrar, feito pra gente pagar de novo.
Olhares conectados.
— Prazer, Ricardo.
— Oi, sou Ana.
— Vai, Corinthians?
— Vai, Corinthians!
Brilho nos olhares.
Eles sorriram um para o outro – o reconhecimento mútuo de dois sofredores que dividem o mesmo escudo no peito (ou no chaveiro pendurado de Ricardo, com o símbolo do Corinthians) e a mesma descrença no sistema. Mas o sorriso morreu quando a luz da rua, já filtrada por uma névoa que não parecia ser apenas fumaça de escapamento, mudou de tom.
Do lado de fora do CFC, a periferia de São Paulo estava sendo discretamente redecorada. Grafites nas paredes não eram mais apenas tinta: eles pulsavam com uma luminescência azulada, como se veias de fibra ótica estivessem crescendo sob o reboco. Foi então que aconteceu.
Um veículo que parecia o cruzamento de um SUV blindado com um besouro de obsidiana deslizou pela rua sem emitir um único decibel. O design era puramente afrofuturista – linhas aerodinâmicas agressivas misturadas com padrões geométricos que lembravam o artesanato iorubá, mas forjadas em metal que parecia respirar. Duas figuras saíram. Não eram sequestradores comuns de noticiário sensacionalista. Vestiam mantos táticos de tecido inteligente e máscaras que lembravam divindades antigas com visores de realidade aumentada que escaneavam a realidade em nanossegundos.
Sem um grito, eles levaram uma criança. Uma menina que brincava perto de um poste de luz que, estranhamente, começou a sangrar uma seiva prateada quando ela foi levada.
O cinismo de São Paulo costuma ditar: “Não olha, não é com você, continua andando”. Mas Ana era curiosa demais e Ricardo já estava farto de ver as coisas serem levadas sem permissão.
— Você viu a frequência daqueles motores? — Ricardo perguntou, já correndo em direção à sua moto modificada, uma Honda que ele havia “melhorado” com sucata de servidores de alta performance.
— Eu vi a estrutura daquele carro — respondeu Ana, subindo na garupa sem hesitar. — Aquilo não segue as leis da física da prefeitura. Aquilo é orgânico.
Eles não sabiam, mas o amuleto que Ana encontrou no chão – um pedaço de osso sintético e circuitos de cobre que ainda vibrava com o DNA da criança – era a chave de um portal que a elite da cidade tentava manter fechado. A periferia não estava apenas crescendo, ela estava evoluindo, transformando-se em uma floresta biotecnológica em que o concreto era o adubo e a informação era a terra preta.
Ricardo deu partida. O motor não roncou; ele cantou uma nota baixa e eletrônica. Enquanto a moto cortava o trânsito da Radial Leste, o cenário mudava. Os prédios de classe média começavam a ser cobertos por trepadeiras de grafeno. O céu de São Paulo, antigamente cinza e salmão, agora tinha veios de um roxo profundo.
— Se a gente morrer, eu juro que vou reclamar no SAC do Universo — gritou Ana, segurando firme na jaqueta de Ricardo, enquanto o mapa holográfico projetado no painel da moto os guiava para o coração de uma fábrica abandonada que agora parecia o templo de uma {{burnout}} church de religião pseudo-evangélica que ainda não havia sido inaugurado.
Ali, entre o lixo eletrônico e o florescimento de uma nova natureza brava, eles pararam. A fábrica respirava. Literalmente. As janelas eram como pulmões mecânicos.
— Bem-vinda à arquitetura do fim do mundo, Ana — disse Ricardo, ajustando a luva tecnológica.
— Ou do começo de um novo — ela retrucou, com o cinismo dando lugar a uma coragem que só quem sobrevive ao transporte público de São Paulo consegue ter.
Eles entraram na escuridão, dois corinthianos, um violonista hacker e uma arquiteta de sonhos, prontos para descobrir que o sequestro daquela criança era apenas o primeiro passo de uma reintegração de posse planetária.
Mas e essa parte da história? Bem, essa custa mais caro do que a taxa de renovação da CNH, vai vendo.
A fábrica da antiga metalúrgica Progresso era tudo, menos progressista. Pelo menos não no sentido humano da palavra. Situada em um terreno que a prefeitura fingia não ver nos mapas oficiais, a estrutura de tijolos aparentes e concreto mofado estava sendo devorada por algo que parecia o sistema nervoso central de uma divindade esquecida.
Se você acha que o mato crescendo em calçada abandonada é persistente, precisava ver as trepadeiras de grafeno que escalavam as chaminés. Elas brilhavam com um pulso ciano intermitente, como se a própria fábrica estivesse tendo uma arritmia cardíaca.
— Segundo a lógica estrutural, a entrada principal é uma armadilha óbvia. Ninguém constrói um pórtico desses sem querer que você seja notado — sussurrou Ana, ajustando a mochila de desenho que agora pesava como se estivesse cheia de chumbo. Ela apontou para um duto de ventilação no segundo andar, parcialmente obstruído por uma massa de raízes pretas que pareciam borracha queimada. — Ali. Aquela viga de sustentação está cedendo, o que significa que o sistema de segurança orgânico não conseguiu estabilizar aquele setor.
Ricardo olhou para cima e depois para as próprias mãos, onde os LEDs da jaqueta refletiam o suor. — Você quer que eu escale isso? Ana, eu sou motoboy, não sou o Homem-Aranha. Se eu cair daqui, meu plano de saúde é à base de oração e anti-inflamatório.
— Você é corinthiano, Ricardo. A gente não cai, a gente se joga na dividida — ela retrucou com um sorriso cínico que quase escondeu o tremor nas mãos.
Eles subiram. O interior da fábrica cheirava a ozônio e terra úmida. O que deveria ser um chão de metal industrial agora era um tapete de musgo bioluminescente que reagia aos passos deles, mudando de cor do azul para um vermelho agressivo. O narrador avisa: se o chão está reclamando da sua presença, é porque o dono da casa já sabe que você chegou.
No centro do galpão principal, a cena era um delírio afrofuturista que faria qualquer engenheiro da USP ter um colapso nervoso. As máquinas industriais haviam sido fundidas com colunas de cristais escuros. No meio de tudo, a criança não estava em uma cela, mas suspensa em um casulo de fios de seda sintética e cabos de fibra ótica.
— Eles estão usando a frequência cerebral dela para alimentar o servidor — Ricardo murmurou, ajoelhando-se perto de um terminal que parecia um totem esculpido em obsidiana e cobre. Ele conectou o cabo de sua luva tática à interface. — Isso não é um sequestro comum, Ana. É mineração de dados biológicos. Eles estão tentando mapear o “axé” da molecada para codificar uma nova inteligência artificial.
De repente, o som de um violão distorcido ecoou pelo galpão – mas não era Ricardo tocando. Era a fábrica. As sombras nas paredes começaram a se descolar do concreto. Figuras esguias, os Sentinelas, surgiram. Eles tinham a altura de Ricardo, mas seus corpos eram feitos de sucata flutuante mantida unida por campos eletromagnéticos, vestindo máscaras tribais que brilhavam com o mesmo roxo do veículo que viram perto do CFC.
— Ricardo, foca no sistema! — gritou Ana, puxando de sua mochila um rolo de papel técnico que, ao ser desenrolado, revelou-se uma folha de polímero rígido com circuitos impressos. — Eu vou tentar bagunçar a geometria desse lugar!
Ela não era uma guerreira, mas uma arquiteta. E para uma arquiteta, um prédio é apenas um conjunto de regras esperando para serem quebradas. Ana começou a golpear os pontos de pressão das raízes de grafeno com sua régua de precisão metálica, causando curtos-circuitos nas “veias” da fábrica.
— Três minutos! — gritou Ricardo, seus olhos revirando enquanto sua mente navegava pelo firewall orgânico do inimigo. — A criptografia deles é baseada em ritmos de tambor, Ana! Se eu não acertar o compasso, o sistema frita meu cérebro!
O narrador, sempre imparcial, mas levemente impressionado, notou que a galera da periferia de São Paulo sempre foi mestre em improviso, mas hackear uma divindade tecnológica enquanto Sentinelas de metal flutuante avançam é elevar o jeitinho brasileiro a um nível cósmico.
Os Sentinelas pararam, as máscaras girando 360 graus. O ar ficou pesado. O silêncio que se seguiu foi pior que o barulho.
— Ricardo… — Ana começou, vendo as sombras se fundirem em uma única entidade colossal no centro do galpão. — Espero que você tenha uma playlist muito boa aí.
A entidade que se ergueu no centro da metalúrgica não tinha rosto, mas tinha muitos nomes. Para o governo, era o Projeto Síncrese; para os engenheiros da Cidade Alta, era a solução para o trânsito e o crime; para Ana e Ricardo, era apenas um pesadelo de metal e fumaça que cheirava à morte e ozônio.
O “Diretor de Equilíbrio Urbano” projetou sua face holográfica sobre a massa de sombras – um homem de terno impecável, cuja pele brilhava com uma perfeição digital ofensiva.
— Vocês são admiráveis, sabiam? — a voz do holograma ecoou, filtrada por mil processadores. — O amuleto que a senhorita Viana carrega não caiu por acidente. Ele é um sensor de estresse. Estávamos procurando os melhores “processadores” biológicos da periferia. A criança foi a isca; vocês são a presa principal.
O sequestro não era o objetivo final. O sistema precisava de mentes que entendessem de estrutura e de improviso, de arquitetura e de lógica de rua. Ana e Ricardo não estavam salvando a criança; eles estavam sendo conduzidos ao matadouro para se tornarem o novo núcleo da inteligência artificial que controlaria São Paulo. O “axé” que Ricardo detectou era, na verdade, a alma de centenas de jovens já integrados à rede.
— Ricardo, o sistema… ele está se alimentando da nossa conexão! — gritou Ana, percebendo que as raízes de grafeno agora brotavam debaixo de suas próprias unhas.
Ricardo olhou para a interface em seu braço. A tela piscava em vermelho: Sobrecarga sináptica crítica. Ele olhou para a criança no casulo e depois para Ana. O estoicismo que ele usava como armadura derreteu, revelando o engenheiro que ele nunca deixou de ser.
— Ana, o plano de arquitetura deste lugar tem uma falha — Ricardo disse, a voz estranhamente calma enquanto o sangue começava a escorrer de seus ouvidos. — Ele é um sistema fechado. Se eu introduzir uma nota dissonante, uma frequência que não pertence a esse algoritmo perfeito… o castelo de cartas cai.
— O que você vai fazer? — Ana tentou se aproximar, mas as sombras a repeliram com a força de um soco.
— Vou tocar a música que eles não conseguem prever — Ricardo sorriu, um sorriso triste de quem sabe que o seu último “corre” não teria volta. — Vou dar a eles o rock axé de quem nunca teve nada e a saudade de quem deixou a Bahia pra morrer em São Paulo.
Ricardo não apenas conectou sua luva ao terminal; ele mergulhou os braços inteiros na massa de circuitos orgânicos. O narrador, que raramente se emociona, sentiu o ar vibrar. Ricardo começou a “tocar” o sistema. Ele usou seus conhecimentos de violão para criar um loop de feedback sonoro, uma cacofonia de códigos corrompidos e ritmos humanos imprevisíveis.
A fábrica gritou de maneira desafinada.
Os Sentinelas se desintegraram em estática. O casulo da criança se abriu, e a menina caiu nos braços de Ana, que lutava contra a paralisia.
— Ricardo, solta! A gente tem que ir! — Ana berrava, as lágrimas lavando o rosto sujo de fuligem.
— Não dá, Ana… — a voz de Ricardo já era metade humana, metade ruído digital. — Eu sou o aterramento. Se eu soltar, o vírus para. Tira ela daqui. Avisa pros meus pais… avisa que eu finalmente terminei o curso de Engenharia. Do meu jeito.
Com um último esforço, Ricardo provocou um curto-circuito em massa. Uma explosão de luz azul e roxa engoliu o centro do galpão. O impacto lançou Ana e a criança para fora da zona de perigo, através da vidraça quebrada, direto para o solo úmido da periferia.
Ana se levantou, os ouvidos zumbindo, a tempo de ver a metalúrgica Progresso implodir silenciosamente. Não houve fogo, apenas uma rápida transformação da matéria em cinzas digitais e poeira orgânica. Onde antes havia uma fábrica e um amigo, agora havia apenas um buraco no asfalto e o silêncio pesado da madrugada paulistana.
A criança chorava. Ana, porém, não conseguia emitir som algum. Ela olhou para o próprio braço: o patch do Corinthians estava rasgado, e a marca de uma conexão de fibra ótica permanecia cicatrizada em sua pele como uma tatuagem de guerra.
O narrador termina sua história aqui. O sistema foi atrasado, a criança foi salva, mas São Paulo continua comendo seus filhos para manter as luzes acesas. Ana Viana agora caminha sozinha, uma arquiteta sem diploma que conhece os túneis secretos da cidade e carrega no peito uma saudade que nenhuma tecnologia consegue deletar.
Ricardo Borges não virou estatística. Ele virou o fantasma na máquina, o erro no sistema que, de vez em quando, faz os semáforos de Guaianases piscarem no ritmo de um violão tocando rock axé.